 Todos temos acompanhado, com preocupação, a proliferação de assaltos a mão arma, os quais têm feito sucumbir pessoas inocentes, muitas das quais no limiar da sua juventude, destruindo sonhos e espargindo pesadelos. Mas os assaltantes não escolhem as vítimas; tudo depende das circunstâncias. Nessa volúpia eles assaltam novos e velhos. Pouco importa, pois, a idade da vítima. Só destaquei, inicialmente, os jovens, em face da primeira lembrança que me veio à mente, em face das últimas notícias veiculadas acerca do assunto.
Todos temos acompanhado, com preocupação, a proliferação de assaltos a mão arma, os quais têm feito sucumbir pessoas inocentes, muitas das quais no limiar da sua juventude, destruindo sonhos e espargindo pesadelos. Mas os assaltantes não escolhem as vítimas; tudo depende das circunstâncias. Nessa volúpia eles assaltam novos e velhos. Pouco importa, pois, a idade da vítima. Só destaquei, inicialmente, os jovens, em face da primeira lembrança que me veio à mente, em face das últimas notícias veiculadas acerca do assunto.
Nenhum de nós que saia de casa, nos dias presentes, pode afirmar que para casa voltará. Nós não temos a mais mínima noção do que será da nossa vida, tão logo saímos à rua, pois podemos ser assaltados – e perder a vida – ainda na porta de casa.
Mas os assaltos não ocorrem somente da porta da rua para fora, afinal, a ousadia dos meliantes não tem limites; eles ousam muito, e, nesse sentido, se necessário, invadem o nosso lar, sem receio de nada.
Esse é o quadro. Essa a situação; situação de extrema gravidade, que muitas vezes não nos afligem, a menos que sejamos nós mesmos as vítimas ou pessoas da nossa mais estreita relação.
Noutro giro, vê-se, agora, a proliferação de linchamentos, o que, na minha avaliação, só era questão de tempo, vez que a população, agastada, maltratada e espezinhada, já não suporta tanta violência, sem que sinta a reação do Estado no sentido de coibi-la ou de punir os criminosos.
Além dos linchamentos, testemunhamos, ademais, a reação a mão armada em face dos assaltos. Nos últimos dias os jornais têm dado destaque a essa questão. O grave é que com todos que conversamos sobre o fato ouve-se a mesma exclamação: ” bem feito. Se fosse comigo faria a mesma coisa”.
A verdade é que quem pode se defender, cuida logo de fazê-lo, sem esperar pela (re) ação da polícia de segurança, que, claro, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Esse tipo de constatação é gravíssimo. É que quando o homem decide fazer a sua própria Justiça, descambamos para selvageria, cujas consequências não são difíceis de mensurar.
Diante desse cenário desolador, é forçoso perscrutar as razões pelas quais os crimes proliferam dessa forma e por que as pessoas reagem, fazendo justiça com as próprias mãos.
É necessário perquirir, ademais, por que os assaltos restaram banalizados e por que as vítimas agora reagem na mesma proporção.
Atrevo-me a responder essas questões à luz das minhas convicções pessoais e em vista da minha experiência de juiz criminal.
Pois bem. Desde a minha compreensão a prática disseminada de assaltos decorre do consciência moral dos meliantes.
Explico. Há muito tempo, parte dos excluídos – aquele a quem o estado tudo nega – sedimentou na sua consciência a convicção de que se a nossa elite “rouba” o dinheiro público e nada acontece, ele, também, tem o direito de subtrair bens de terceiros, ainda que o faça mediante violência e ainda que, em relação a ele, haja maior probabilidade de eventualmente ser alcançado pelas instâncias persecutórias.
Simples assim, na concepção do excluído. Ora, se a elite dirigente faz todo tipo de tramoia com o dinheiro público e nada acontece, ele, cidadão comum, alijado de tudo, conclui que também pode fazer as suas travessuras.
O meliante, com essa consciência moral deturpada, avalia os riscos, sabe que pode ser preso e que, uma vez preso, pode, sim, ser condenado ( diferente da elite dirigente, que tem certeza da impunidade). Todavia, ainda assim, correndo todos os riscos, ele arrisca. Na concepção dele, vale arriscar, mesmo porque, diferente do colarinho branco, ele não tem a chave dos cofres públicos, ele não tem nenhum canal que lhe favoreça o acesso aos cofres públicos. Para o roubador, à luz da sua consciência moral, ainda que correndo riscos, vale a pena tentar, afinal, ele é apenas mais um no mundo do crime, segundo a sua consciência moral.
Não pense você, não pense ninguém, que esse tipo de meliante não tenha consciência do que está fazendo. Ele sabe que é errado. Ele tem consciência que corre riscos. Mas não desiste. Ele agora está envolvido pelo sensação de que se os outros podem ele também pode. E assim pensando, vai em frente, parte para o ataque, na esperança de que não venha a ser alcançado pelos tentáculos persecutórios do Estado, conquanto tenha certeza de sua fragilidade em face desse mesmo Estado, cujas instâncias têm os olhos voltados apenas para pequena criminalidade.
Simplificando: o meliante, o criminoso do colarinho amarrotado, se sente estimulado a praticar crimes, porque testemunha, todos os dias, o enriquecimento ilícito dos colarinhos engomados, sem que nada lhes ocorra – a não ser, claro, excepcionalmente.
Diante desse quadro ele indaga, do alto de sua consciência moral: se o bacana pode, por que eu não posso? Se meu vizinho vive de roubos e ninguém nunca o puniu, por que eu também não posso?
Ao cidadão de bem – aquele que não desvia dinheiro público e nem se atreve a assaltar -, abandonado pelos órgãos de segurança, só resta, diante desse tenebroso quadro, reagir; e tem reagido, daí os linchamentos e as defesas pessoais que proliferam.
Os linchamentos e a reação armada em face dos assaltos decorrem, ademais, da falta de credibilidade das nossas instituições.
A verdade é que as pessoas não suportam mais ser assaltadas, para, depois, deparar-se com o meliante em liberdade, à conta da sua presunção de inocência.
Da mesma forma, as pessoas já não suportam, mas não podem reagir da mesma forma, em face da roubalheira do dinheiro público. Todavia, ainda que mais contidas em relação a essas questões, têm reagido defenestrando do poder os larápios do dinheiro público, pela via convencional e democrática que são as eleições.
É necessário que olhemos essas questões à luz de um juízo de valor acurado. A continuar assim, não tenho dúvidas, o cidadão comum passará, doravante, ao exercício da sua defesa, sejam quais forem as consequências, com mais sofreguidão. Se essa reação se disseminar, ainda será uma verdadeira guerra civil.
Do acima relatado a constatação, é obvia: o cidadão comum só reage em face de um assalto, porque descrê das nossas instituições, porque delas faz um péssimo juízo de valor.Da mesma forma, em relação aos assaltantes dos cofres públicos, o cidadão só não tem reagido com violência porque a situação não favorece. Mas, com certeza, a vontade de reagir é muita, em face de sua indignação com tantos desvio de dinheiro público, em detrimento, por exemplo, dos serviços públicos primários que sequer são fornecidos.
As pessoas sabem, sim, o que é certo e o que é errado. As pessoas – excluídos os meliantes a que me reporto nessas reflexões – têm senso e consciência moral normais. Mas sentem que não podem mais aguardar.
As pessoas não têm esperança que o roubador que atentou contra o seu patrimônio possa vir a pagar pelo que fez, nem tampouco restituir o que roubou ou lhe ressarcir pelos danos causados, mesmo porque o roubador é, sobretudo, um miserável; diferente do colarinho branco que vive e convive nas mesmas rodas sociais que vivemos, esnobando o resultado dos desvios que protagonizou, sem a mais mínima cerimônia.
Os meliantes do colarinho branco, diferente dos roubadores, são, sobretudo, uns esnobes e debochados, pois não fazem a mínima questão de esconder o patrimônio que amealharam com as verbas desviadas. Para eles o bom mesmo é ostentar. E às favas a consciência moral, afinal, pensam, não vieram à terra para consertar o mundo.
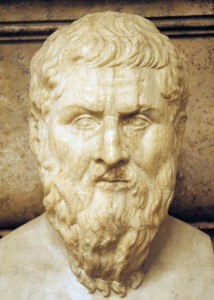 Lendo Platão (Fedro) detive-me, para essas reflexões, na passagem em que ele diz que a linguagém é um pharmakon, palavra grega que em português quer dizer remédio, veneno e cosmético. É dizer: a palavra tanto pode ser um remédio para o conhecimento, como um veneno, pois, algumas vezes, nos fazem acreditar e aceitar como verdadeiras coisas que não vemos ou não lemos, sem sequer contestar. A palavra, da mesma forma, pode ser apenas um cosmético, uma maquiagem, uma máscara para dissimular.
Lendo Platão (Fedro) detive-me, para essas reflexões, na passagem em que ele diz que a linguagém é um pharmakon, palavra grega que em português quer dizer remédio, veneno e cosmético. É dizer: a palavra tanto pode ser um remédio para o conhecimento, como um veneno, pois, algumas vezes, nos fazem acreditar e aceitar como verdadeiras coisas que não vemos ou não lemos, sem sequer contestar. A palavra, da mesma forma, pode ser apenas um cosmético, uma maquiagem, uma máscara para dissimular.

 Escrever sobre a presunção de inocência pareceria, a princípio, tarefa fácil, uma vez que a garantia é consagrada pela Constituição, sacramentada por diplomas internacionais e repetidas vezes destacada em decisões judiciais como elemento fundador de um Estado de Direito.
Escrever sobre a presunção de inocência pareceria, a princípio, tarefa fácil, uma vez que a garantia é consagrada pela Constituição, sacramentada por diplomas internacionais e repetidas vezes destacada em decisões judiciais como elemento fundador de um Estado de Direito.